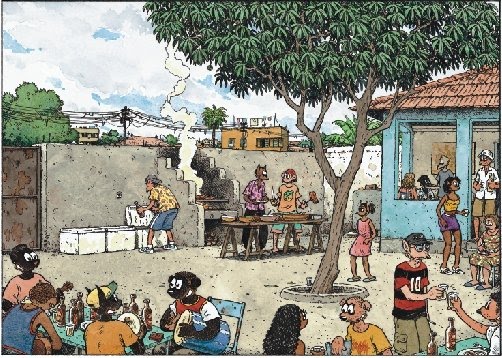“Prova de amor maior não há
Que doar a vida pelo irmão”
(Canção litúrgica)
Todos os anos, nessa época, as pessoas enviam cartões com votos de boas festas e mensagens de paz e fraternidade. Nos tempos modernos, o espírito natalino impulsiona bastante o comércio e movimenta bem o mercado. Sendo assim, importa mais o valor dos presentes do que o valor de ser presente. Por isso, não pensei em um cartão de natal que tivesse neve, renas, árvores ou enfeites, mas rostos... simplesmente rostos de homens e mulheres de muita presença.
Sabe o que estas pessoas tiveram em comum? Todas foram assassinadas na luta por justiça. Todas levaram seu amor ao próximo ao limite de entregar sua própria vida. Então, agora me responda: quem seguiu mais e melhor os passos de quem foi torturado e morreu na cruz, estes leigos, sacerdotes e religiosos, ou aqueles ficam nos palcos-altares batendo palminha? Os que precisam fechar os olhos para sentir a presença de Jesus ou estes que, enquanto tinham seus olhos abertos, viram o Cristo no rosto dos oprimidos?
Faça um pequeno teste: você conhece a história pessoal de quantas destas pessoas? Pois é. Sabia que ainda há nos dias de hoje muitos que seguem os mesmos passos que elas seguiram quando vivas? Como, se ninguém vê? Acontece que gente assim não está em programas de rádio e televisão, mas conhece de fato as pessoas (que não levam vida de rádio e tv) e onde elas moram (quando moram!).
Pense em tudo isso e tenha um "FELIZ NATAL"!!!
Márcio Hilário.
20-12-2012
PS: Ah! Já ia me esquecendo: os responsáveis por essas mortes (e outras tantas, quem sabe?) estão livres, leves e soltos até agora!!!